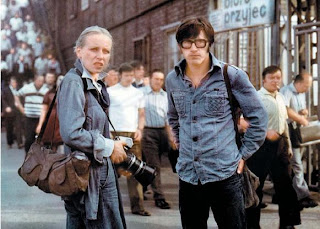O ano acaba e sempre ficam os vários filmes sobre os quais eu gostaria de ter escrito este ano, mas por diversos motivos, contratempos e necessidades não pude assim fazê-lo. Tento tirar um pouco do atraso com esses últimos textos curtinhos sobre filmes do ano. E 2011 foi bom em números: até então 322 filmes (fora umas 30 revisões), sendo que desses, 160 são de produções lançadas comercialmente no mercado nacional, seja nos cinemas ou direto em DVD. Só me resta desejar que 2012 continue repleta de (bons) filmes. A todos, feliz ano novo.
A Serbian Film – Terror sem Limites (Srpski Film, Sérvia, 2010)
Dir: Srdjan Spasojevic

 Enfim, vi o tal filme polêmico do ano. E independente das discussões sobre censura decorrentes das cenas pesadas de sexo e violência, A Serbian Film - Terror Sem Limites surpreende por ser tão ruinzinho na sua tentativa de soar pesado e contundente, expondo uma tese capenga do “vilão” sobre a maldade humana, essa que segundo ele deve ser combatida com mais maldade e desumanidades (?!?). Milos (Srdjan Todorovic) é um ex-ator pornô que recebe a proposta milionária de participar de uma espécie de reality show em que recebe ordens de transar e espancar pessoas desconhecidas.
Enfim, vi o tal filme polêmico do ano. E independente das discussões sobre censura decorrentes das cenas pesadas de sexo e violência, A Serbian Film - Terror Sem Limites surpreende por ser tão ruinzinho na sua tentativa de soar pesado e contundente, expondo uma tese capenga do “vilão” sobre a maldade humana, essa que segundo ele deve ser combatida com mais maldade e desumanidades (?!?). Milos (Srdjan Todorovic) é um ex-ator pornô que recebe a proposta milionária de participar de uma espécie de reality show em que recebe ordens de transar e espancar pessoas desconhecidas.O grande problema do filme é tentar incutir o horror por uma coisa que já é por si só repugnante (ou alguém aí é a favor da pedofilia e estupro?). Existe um discurso quase gritante para que o espectador sinta pura repugnação, o tempo todo reiterada pelo filme a cada nova crueldade que o personagem é obrigado a cometer. No fim das contas, nem vale por toda a defesa feita pela liberdade de expressão das obras de arte (sim, considero qualquer filme uma peça de arte), embora seja contrário a qualquer tipo de censura. Mas melhor se fosse por um filme que valesse mais a pena.
Contra o Tempo (Source Code, EUA/França, 2011)
Dir: Duncan Jones

 Depois de uma estreia promissora no longa-metragem com o ótimo Lunar, Duncan Jones retorna com mais uma ficção científica, muito embora Contra o Tempo se aproxime mais um pouco do cinema comercial, numa busca por um público maior. Se em Lunar contava mais a perspectiva psicológica de um astronauta no espaço sideral, nesse seu novo filme ficamos vidrados com a história de um ex-soldado do exército (Jake Gyllenhaal) que retorna ao tempo diversas vezes dentro de um trem prestes a explodir, a fim de descobrir o responsável por tal ato terrorista.
Depois de uma estreia promissora no longa-metragem com o ótimo Lunar, Duncan Jones retorna com mais uma ficção científica, muito embora Contra o Tempo se aproxime mais um pouco do cinema comercial, numa busca por um público maior. Se em Lunar contava mais a perspectiva psicológica de um astronauta no espaço sideral, nesse seu novo filme ficamos vidrados com a história de um ex-soldado do exército (Jake Gyllenhaal) que retorna ao tempo diversas vezes dentro de um trem prestes a explodir, a fim de descobrir o responsável por tal ato terrorista.O filme explora muito bem a ideia de voltar ao passado, pois não se quer mudar o curso do que já aconteceu, mas sim encontrar o responsável por uma catástrofe que está prestes a se repetir. Além disso, Duncan Jones filma muito bem as constantes voltas às mesmas situações, sempre a partir de um ponto de vista diferenciado. Ainda acrescenta um interesse romântico na pessoa da bela Christina (Michelle Monaghan), colega de trabalho do homem de cujo o corpo o protagonista toma posse. Embora se traia na sua conclusão ao insistir num final que seja aprazível e reconciliador, o filme consegue discutir a ética da vida humana em situações críticas, para além da necessidade do homem (armado do aparato tecnológico) de provar sua superioridade, e lucar com isso.
Corações Perdidos (Welcome to the Rileys, EUA/Reino Unido, 2010)
Dir: Jake Scott

 Uma das maiores surpresas do fim de ano é como esse Corações Perdidos possui tanto de sutileza, sensibilidade e maturidade, sem que precise afrontar a inteligência do espectador. O casamento há muito tempo desgastado de Douglas (James Gandolfini) e Lois (Melissa Leo) ganha um toque inesperado quando a amante dele morre de repente num acidente, e ele resolve permanecer em uma outra cidade depois de uma viagem a negócios. Lá, conhece a stripper e prostituta Allison (Kristen Stewart), de quem passa a cuidar, como a uma filha, sem manter nenhum tipo de relação sexual com a garota. Jake Scott (filho de Ridley Scott, escolhendo estrear na direção de um longa pelo caminho do cinema independente) tem o maior cuidado em compor esses personagens e, principalmente, na forma com que eles lidam com as escolhas e atitudes uns dos outros.
Uma das maiores surpresas do fim de ano é como esse Corações Perdidos possui tanto de sutileza, sensibilidade e maturidade, sem que precise afrontar a inteligência do espectador. O casamento há muito tempo desgastado de Douglas (James Gandolfini) e Lois (Melissa Leo) ganha um toque inesperado quando a amante dele morre de repente num acidente, e ele resolve permanecer em uma outra cidade depois de uma viagem a negócios. Lá, conhece a stripper e prostituta Allison (Kristen Stewart), de quem passa a cuidar, como a uma filha, sem manter nenhum tipo de relação sexual com a garota. Jake Scott (filho de Ridley Scott, escolhendo estrear na direção de um longa pelo caminho do cinema independente) tem o maior cuidado em compor esses personagens e, principalmente, na forma com que eles lidam com as escolhas e atitudes uns dos outros.Existe ainda um cuidado preciso na maneira como as informações sobre esses personagens vão sendo apresentadas pela narrativa, sem nenhum tipo de pressa, surgindo quando se tornam pertinentes às situações. É assim que vamos descobrir que a filha do casal morreu ainda adolescente num acidente de carro e mais tarde entenderemos que a mãe teve parcela considerável de culpa (por isso, ela, há anos, não sai de casa, nem dirige). É daí que iremos entender porque Douglas tem tanta predisposição em ajudar aquela menina que ele julga desamparada, numa tentativa de reavivar o cuidado paterno. Esse tipo de entendimento nunca nos é mastigado pelo filme; o espectador vai construindo essas relações sozinho, na medida em que se envolve com o esforço daquele casal e ainda torce para que aquele casamento volte aos trilhos. Com um elenco que defende muitíssimo bem seus personagens (Gandolfini e Leo estão excelentes), Jake Scott começa com o pé direito, maduro e disposto a nos entregar um produto que sabe muito bem considerar a sabedoria emocional de quem o assiste.
Compramos um Zoológico (We Bought a Zoo, EUA, 2011)
Dir: Cameron Crowe

 Homem recém-viúvo, pai de dois filhos, uma menina pequena e um rapaz adolescente, resolvem mudar de casa. Deparam com um zoológico à beira da falência e resolvem comprar e administrar o local, sem entender nada do assunto. História das mais absurdas (mas é delas de que o cinema quase sempre se nutre), aposta no carimbo de filme “família” para vender a ideia de superação através de trabalho em conjunto. Nada contra, caso o filme não se acomodasse tanto na própria situação de novos proprietários se embaralhando na tentativa de fazer o lugar dar certo novamente, com direito aos animais do zoológico reagindo como se entendessem os dramas e problemas dos humanos.
Homem recém-viúvo, pai de dois filhos, uma menina pequena e um rapaz adolescente, resolvem mudar de casa. Deparam com um zoológico à beira da falência e resolvem comprar e administrar o local, sem entender nada do assunto. História das mais absurdas (mas é delas de que o cinema quase sempre se nutre), aposta no carimbo de filme “família” para vender a ideia de superação através de trabalho em conjunto. Nada contra, caso o filme não se acomodasse tanto na própria situação de novos proprietários se embaralhando na tentativa de fazer o lugar dar certo novamente, com direito aos animais do zoológico reagindo como se entendessem os dramas e problemas dos humanos.A história é repleta de saídas fáceis que servem para deixar o espectador feliz, esperançoso, sem questionar como isso se dá no filme (exemplo: a avaliação do inspetor para aprovar o zoológico só podia ser positiva já que ele não achou nenhuma irregularidade no local, embora o filme aposte num certo suspense sobre a liberação do zoo). É o tipo de coisa que faz o espectador se sentir enganado, porque soa artificial. Além disso, os coadjuvantes são todos mal aproveitados (exceto a jeca adorável vivida por Elle Faning). Quando alcança o drama (principalmente o embate entre pai e filho), as discussões parecem rasas e mais preocupadas em soltar piadas de alívio cômico do que resolver de fato a situação. Juro que eu não me incomodo com a ideia de ingenuidade da coisa toda, mas sim com a artificialidade para se chegar a isso.
Margin Call – O Dia Antes do Fim (Margin Call, EUA, 2011)
Dir: J. C. Chandor

 Ao contrário do que se pode imaginar, Margin Call – O Dia Antes do Fim não é um filme frenético. Muito pelo contrário, impressiona como uma história sobre a iminência da crise financeira que eclodiu em 2008 possa conter tanta calmaria. Mas isso não quer dizer que não exista tensão. Quando o analista de risco de um grande banco de investimentos é demitido, ele passa a um de seus jovens subordinados informações que andava pesquisando sobre um provável crash das contas da instituição, o que representaria só o início de uma reação em cadeia que deixaria a economia norte-americana (e, por conseguinte, mundial) em maus bocados. É quando se descobre que o tempo da bomba relógio já está se esgotando.
Ao contrário do que se pode imaginar, Margin Call – O Dia Antes do Fim não é um filme frenético. Muito pelo contrário, impressiona como uma história sobre a iminência da crise financeira que eclodiu em 2008 possa conter tanta calmaria. Mas isso não quer dizer que não exista tensão. Quando o analista de risco de um grande banco de investimentos é demitido, ele passa a um de seus jovens subordinados informações que andava pesquisando sobre um provável crash das contas da instituição, o que representaria só o início de uma reação em cadeia que deixaria a economia norte-americana (e, por conseguinte, mundial) em maus bocados. É quando se descobre que o tempo da bomba relógio já está se esgotando.A alta cúpula da empresa é então acionada para discutir a situação e, principalmente, encontrar uma saída o mais rápido possível. O prejuízo, inclusive moral, é inevitável. O grande trunfo do filme é apresentar essa situação de calamidade anunciada sem se mover pelo desespero. A narrativa nunca transparece agitação, as ações dos personagens nunca são precipitadas, embora a situação seja crítica e a apreensão é sentida desde o início. É mais um filme sóbrio, que tenta ainda clarificar um pouco de como se deu a crise econômica (muito embora o economês esteja presente). Assim, faz uma bela dobradinha com o documentário ganhador do Oscar este ano Trabalho Interno. Com um texto preciso e ótimos diálogos, o filme ainda se beneficia de um ótimo elenco, todos em sintonia (destaque para Kevin Spacey que, para além da dureza que deve representar na empresa, revela ainda uma faceta humanista dentro de outro centro dramático que envolve sua cadela à beira da morte). Ela agoniza assim como todo um mercado que estará na mesma situação.
Missão: Impossível – Protocolo Fantasma (Mission: Impossible – Ghost Protocol, EUA, 2011)
Dir: Brad Bird

 Incrível como esse filme tem uma história capenga (a missão reaviva a antiquada rivalidade entre Estados Unidos e Rússia), um vilão maniqueísta e um final com aquela “surpresa” que te faz pensar “ah, tá bom”, mas mesmo assim continua uma boa pedida. A quarta investida da série Missão Impossível ganha com Brada Bird (um diretor de animações como O Gigante de Ferro, Os Incríveis e Ratatouille) um belo defensor do cinema de ação, com uma noção de timing muito boa, proporcionando momentos de pura adrenalina (as cenas da escalada no prédio mais alto do mundo e a perseguição em meio a uma tempestade de areia fazem prender o fôlego).
Incrível como esse filme tem uma história capenga (a missão reaviva a antiquada rivalidade entre Estados Unidos e Rússia), um vilão maniqueísta e um final com aquela “surpresa” que te faz pensar “ah, tá bom”, mas mesmo assim continua uma boa pedida. A quarta investida da série Missão Impossível ganha com Brada Bird (um diretor de animações como O Gigante de Ferro, Os Incríveis e Ratatouille) um belo defensor do cinema de ação, com uma noção de timing muito boa, proporcionando momentos de pura adrenalina (as cenas da escalada no prédio mais alto do mundo e a perseguição em meio a uma tempestade de areia fazem prender o fôlego).E é com todo esse gás que a franquia se notabilizou, fazendo do absurdo das situações, das missões e, principalmente, da quase “invencibilidade” dos personagens uma marca própria. Basta somente que o talento de Brad Bird administre essas questões em prol do ritmo da narrativa, para não perder em intensidade. Tom Cruise consegue administrar muito bem sua canastrice a favor de seu personagem, enquanto os coadjuvantes equilibram com outras características. Simon Pegg, o alívio cômico; Paula Patton, a sedutora; Jeremy Renner o durão. E há ainda Léa Seydoux, linda de morrer (e isso não é um trocadilho), fazendo as vezes de femme fatale. E não podia faltar os acordes do tema clássico novamente reinventado, aquele que quando soa nos faz ansiar por boas doses de adrenalina.
Natimorto (Idem, Brasil, 2009)
Dir: Paulo Machline

 Depois de Heitor Dhalia filmar a história de um de seus livros, O Cheiro do Ralo, eis que o romancista e cartunista brasileiro Lourenço Mutarelli tem mais uma de suas obras transpostas para as telas de cinema. Dessa vez é Natimorto que ganha adaptação do pouco conhecido Paulo Machline. Mas agora, Mutarelli assume também o protagonismo do filme, ao lado de Simone Spoladore. Ela é uma cantora lírica que tenta uma chance com o agente vivido por Mutarelli para ser aceita pelo maestro de alguma orquestra. Uma pena que o filme se perca com uma história que só parece apontar para a loucura iminente de seu protagonista. Fumante compulsivo, tenta fazer uma relação com as imagens dos versos dos maços de cigarro com as cartas de tarô, tentando prever como será o dia de quem os comprou, num exercício não só curioso como bizarro.
Depois de Heitor Dhalia filmar a história de um de seus livros, O Cheiro do Ralo, eis que o romancista e cartunista brasileiro Lourenço Mutarelli tem mais uma de suas obras transpostas para as telas de cinema. Dessa vez é Natimorto que ganha adaptação do pouco conhecido Paulo Machline. Mas agora, Mutarelli assume também o protagonismo do filme, ao lado de Simone Spoladore. Ela é uma cantora lírica que tenta uma chance com o agente vivido por Mutarelli para ser aceita pelo maestro de alguma orquestra. Uma pena que o filme se perca com uma história que só parece apontar para a loucura iminente de seu protagonista. Fumante compulsivo, tenta fazer uma relação com as imagens dos versos dos maços de cigarro com as cartas de tarô, tentando prever como será o dia de quem os comprou, num exercício não só curioso como bizarro.Ao propor à cantora que passem a viver isolados do mundo num quarto de hotel (ele se diz assexuado e possui um casamento desastroso com uma mulher tenebrosa), acaba se afundando na sua própria paranoia, essa que o filme acompanha com um misto de interesse e distanciamento. Simone Spoladore (que tem feito coisas muito ruins ultimamente, como Elvis e Madona e Insolação) gasta bastante de seu talento para conferir naturalidade ao texto muitas vezes artificial e impostado que recebe. Mas mais despreparado ainda está o próprio Mutarelli, visivelmente desprovido de força dramática, o que tira muito a intensidade de seu personagem. E do próprio filme que cola a esse homem perdido, fadado a se autoconsumir entre cigarros, loucuras e desejos não concretizados.